Tenho verificado que na procura de diálogo entre crentes e não-crentes, se nos referimos a Deus, nem sempre sabemos de Quem estamos a falar. Como falar de Deus? Existe uma forma adequada para falar de Deus? Se a forma não for adequada, então corremos o grave risco que falar coisa nenhuma, uma vez que nos referimos a uma ideia abstracta que não corresponde à realidade.
Um exemplo. Num post recente, o bioquímico e céptico Ludwig Krippahl ao afirmar algo como “O problema é que «Deus está já imanente na natureza como Trindade», tal como “um demónio controla a moeda”, é falar acerca de uma coisa sem dizer nada acerca dela”, compara a imanência de Deus na natureza com um demónio a controlar uma moeda. Serão comparáveis? Em que sentido são comparáveis? Por outro lado, falar sobre a imanência de Deus na natureza, ainda por cima, Deus como Trindade, é não dizer nada acerca daquilo que se fala. Portanto, a ideia com que me tenho deparado frequentemente é que falar de Deus usando palavras como imanência, Trindade, Amor, relação, pessoas-em-comunhão, e muitas outras dizem pouco, ou mesmo nada, a quem não crê na existência de Deus. Ainda, muitos colocam falar sobre Deus ao mesmo nível de falar sobre uma criatura imaginária, como uma sereia, um unicórnio, uma fada, etc. Então, questionei-m: existe alguma forma certa de falar sobre Deus?
Longe de mim pensar que esta seria uma questão mais profunda do que me parecia à partida. Um dos artigos que me deparei em tempos tinha precisamente este título “The right way to speak about God? Pannenberg on analogy” (A forma certa de falar sobre Deus? Pannenberg sobre a analogia). Escrito pela teóloga católica americana Elizabeth Johnson, explorando o pensamento de Wolfhart Pannenberg, um do mais proeminentes teólogos do nosso tempo, sobre a analogia como técnica filosófica para falarmos de Deus.
No sentido mais geral, o pensamento antigo retinha que qualquer similaridade se podia chamar por analogia. Por exemplo, os filósofos gregos usavam o pensamento analógico como ferramenta heurística (arte de inventar e descobrir) para investigar o universo físico. O próprio termo “analogia”, analisado gramaticamente quer dizer “de acordo com o logos”, e nesse sentido, relacionamentos das mais diversas esferas qualitativas podem ser “análogos” se se conformam a logos idênticos numa relação de equidade. Pannenberg começa o seu longo estudo focando-se na estrutura do termo analogia como identificação. Quando algo se afirma, por analogia a outra coisa, significa que ambas se identificam, mesmo se se reportam a realidades qualitativamente diferentes. Por exemplo, podemos ver os seres humanos relativamente a Deus, por analogia, como pequenos sóis ao lado do Grande Sol, identificando a luz que somos chamados a ser como Cristãos (Mt 5, 14), com a luz do mundo que é Cristo (Jo 8, 12).
A analogia Neoplatónica tornava conhecido o desconhecido por ser similar ao conhecido, mas Pannenberg critica esta forma de utilizar a analogia porque ao limitar o conhecimento de Deus, ao conhecimento que se tem do mundo, limitamos o nosso próprio conhecimento porque excluímos o que Deus livremente pode criar ainda de novo e imprevisto. Nesse sentido, a analogia não pode tornar-se uma forma básica de pensamento na teologia Cristã, e o seu uso presistente pode levar à ausência de fé, uma vez que obstrói a compreensão do que é mais característico do Deus bíblico.
A analogia na Escolástica explora o conceito de imagem na relação entre Deus e o mundo. Quando aplicado, o conceito de analogia na Escolástica compromete a transcendência de Deus, mesmo se a aprecia e pretende proteger, tal como em S. Tomás que insistia no facto de cada qualidade que conferimos a Deus «deixa a qualidade significada como incompreendida e excedente à significação do nome» (ST 1, q.13, a.5). Contudo, para Pannenberg, a presunção de um logos ou lógica comum entre Deus e a criatura ocorre em detrimento da transcendência e mistério de Deus. Remove a diferença qualitativamente infinita entre Deus e a criatura, e – como se vê usualmente em muitos blogs ateus – dá-nos a ilusão do poder de definir Deus. Mas não passa disso: uma ilusão.
O Deus vivo no seu mistério de alteridade, santidade e liberdade é absolutamente inconcebível pela criatura e só pode ser conhecido quando, e na medida, em que Deus se auto-revela. E, por isso, o veredicto de Pannenberg quanto ao uso da analogia como caminho para o conhecimento de Deus é: “teologicamente ilegítimo”.
Houve também quem tivesse usado a analogia como ferramenta de pesquisa histórica. Na leitura de Ernst Troeltsch analogia significa que: julgamentos acerca da possibilidade de ocorrência, ou não ocorrência, de eventos passados podem ser feitos apenas se pressupormos que a experiência humana presente é análoga à do passado. Se assim fosse, o que existiu no passado só seria verdadeiro que se repetir no presente, passando a analogia a um princípio ontológico. Se é verdade que a existência de uma analogia assim definida valida positivamente um acontecimento do passado, o contrário não é necessariamente verdade! A ausência de analogia não prova a não-historicidade de um evento, uma vez que um dado evento pode ultrapassar qualquer analogia e, ainda assim, ser uma realidade. Um exemplo que levanta este desafio é o da credibilidade histórica da ressurreição de Jesus.
Quando se pode usar, então, a analogia, sem ser teologicamente ilegítimo?
Na medida em que realidades divinas são experimentadas no mundo, resultado da relação de Deus com o mundo, uma analogia entre as palavras que usamos para descrever essa realidade e o seu uso teológico, para o conhecimento de Deus, é legítimo. Só se torna ilegítimo quando extendemos a analogia ao “Ser” de Deus. Palavras como imanência, Trindade, Amor, relação, pessoas-em-comunhão são não analogias, mas fazem parte da auto-revelação de Deus no paradoxo da revelação em Jesus Cristo: Deus que não é “como” nós, mas “fez-se” um de nós. É este paradoxo que torna possível falar verdadeiramente do verdadeiro Deus.
Voltando ao exemplo inicial. Enquanto que a “imanência de Deus na natureza” é uma realidade divina experimentada no mundo, pelo que existem analogias (como a do Sol) que nos podem dar uma percepção melhor da relação entre Deus e o mundo, “Deus como Trindade” está no domínio a auto-revelação de Deus. Como diz David Tracy, a «revelação é o evento-dom da auto-manifestação do Outro. A Revelação quebra as continuidades, semelhanças e sentimentos comuns», pelo que não podemos esperar que algo com esta dimensão possa ser um mero acréscimo, por analogia, num modelo qualquer que pretendemos testar, menos ainda “cientificamente”. Tal analogia é teologicamente ilegítima e, consequentemente, tais comparações (inclusivé com fadas, unicórnios, amigos invisíveis, sereias, etc.) não têm qualquer sentido.
Não é que não se devam fazer analogias, mas deve-se ter cuidado com as analogias que se faz, pois, nem todas fazem sentido. E se não fazem sentido, não passam sequer o teste de serem hipótese, logo, “é falar acerca de uma coisa sem dizer nada acerca dela” .
Fonte: Elizabeth Johnson (1982) “The right way to speak about God? Pannenberg on analogy”, Theological Studies, 43: 673-692.
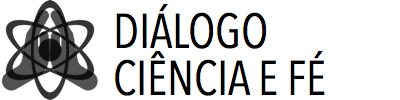


Boa Páscoa e cuidado com as goludices que tão mal fazem à linha…
Obrigado “Sousa da Ponte”!Retribuo os votos com estima.Abraço … Miguel Panão